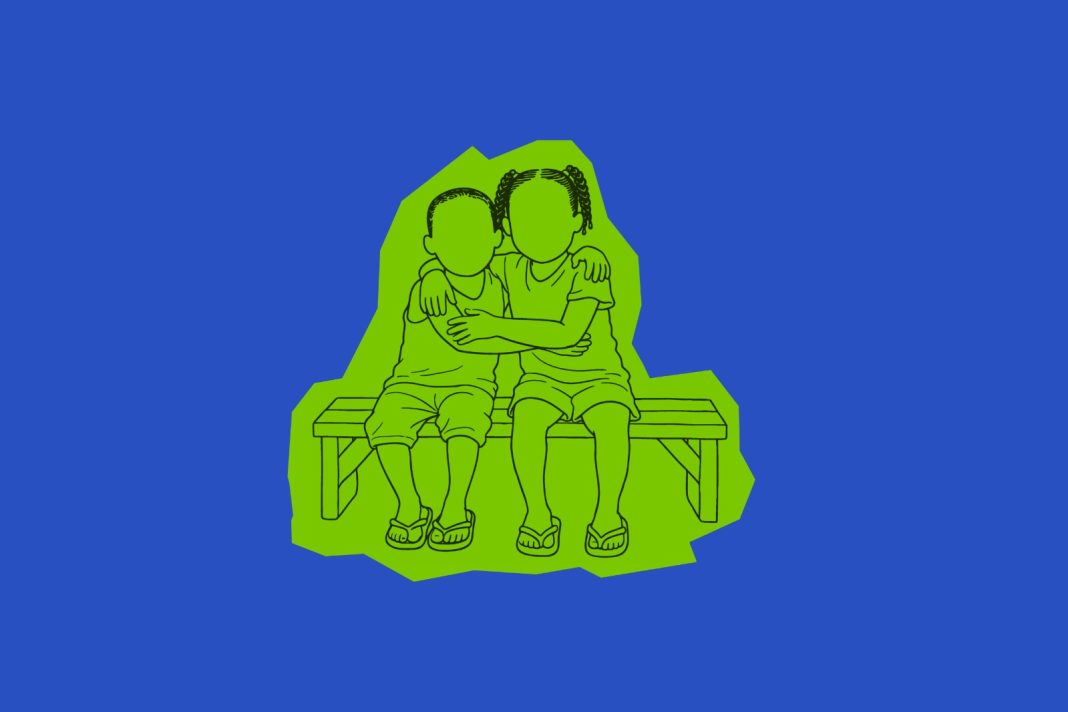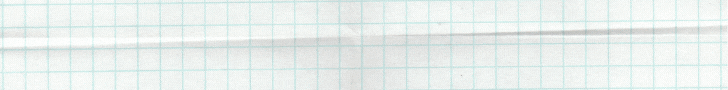OPINIÃO
Quando soube do desaparecimento de três crianças quilombolas em Bacabal, meu coração doeu. Doeu por vários motivos. Doeu porque são crianças pequenas, porque são negras e porque são quilombolas… Meu medo residia principalmente no preconceito histórico que essas comunidades sofrem e, por conta disso, ninguém iria ligar para aquele sumiço.
Felizmente, eu estava errada. Rapidamente pessoas se mobilizaram para procurar, a comunidade parou e o poder público, como poucas vezes eu vi, agiu da maneira que em todos os casos deve agir: colocou todo o seu aparato para encontrá-las — bombeiros, policiais, voluntários, drones, cães. Um esforço grande, necessário, urgente. E,embora, para quem vive ali, nada disso seja suficiente para aliviar a dor de acordar e dormir sem saber onde estão seus filhos, sobrinhos, netos, o esforço coletivo e um desejo forte de encontrar essas crianças com vida me levava a acreditar que o Maranhão inteiro — e, em certa medida, o Brasil — que acompanham as buscas compartilhavam o mesmo sentimento de empatia e dor.
Infelizmente, nossa sociedade possui raízes profundas e nefastas no racismo estrutural. Para mim, o fato de duas crianças de São Sebastião dos Pretos, comunidade quilombola de Bacabal, ainda estarem desaparecidas já deveria bastar para impor silêncio, respeito e humanidade. Mas, no Brasil de sempre, até a dor vira oportunidade para que gente inescrupulosa destile seu ódio antigo. Porque, como se não bastasse a tragédia, parte da comunidade passou a ser também alvo de ataques nas redes sociais e em espaços públicos, com comentários ofensivos e insinuações perversas que tentam ligar o desaparecimento das crianças à fé, às tradições e à cultura da comunidade. O que está sendo dito, ainda que nem sempre de forma explícita, é velho conhecido: quando a tragédia acontece em território negro, pobre ou tradicional, sempre aparece alguém disposto a procurar “culpa” na cultura, na reza, no tambor, no modo de viver. Não é ignorância. É método. Tem nome. Chama-se Racismo Religioso. É crime!
Não é à toa que a Secretaria de Igualdade Racial do Maranhão precisou se manifestar publicamente com uma nota de repúdio às manifestações discriminatórias. Não é por acaso que o Ministério Público também alertou para ataques racistas e de intolerância religiosa contra os moradores do quilombo. Em outras palavras: além de procurar crianças desaparecidas, foi preciso também defender uma comunidade que passou a ser julgada, estigmatizada e atacada por aquilo que é. E, quando o Estado precisa lembrar que uma comunidade não pode ser atacada por causa de sua fé, é porque algo está profundamente errado com a nossa sociedade. Ou melhor, algo CONTINUA profundamente errado em nossa sociedade.
Pois não há como fingir surpresa. Não é de hoje que a fé do outro, quase sempre ligada às tradições negras e populares, vira motivo de deboche, suspeita ou criminalização. O Brasil faz isso há séculos. Demoniza o que é negro, desconfia do que é quilombola, condena o que é diferente — e depois posa de chocado quando alguém dá nome a isso: Racismo, só que agora disfarçado de curiosidade mórbida e “opinião”.
Infelizmente, o que ocorre com a comunidade de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, não é um caso isolado. A verdade é que o país tem uma longa história de tratar territórios negros, quilombolas e periféricos como espaços onde a tragédia é quase “esperada” — e onde a empatia parece sempre menor. É impossível não perguntar, ainda que doa: se isso tivesse acontecido em um bairro rico, o tom seria o mesmo? As insinuações seriam as mesmas? As pessoas estariam procurando culpados na cultura e na fé das famílias?
Racismo religioso não é “exagero”, não é “mimimi”, não é “interpretação”, muito menos “opinião”. Ele está, dolorosamente, presente toda vez que se transforma a religiosidade negra em estigma, em caricatura, em bode expiatório. Toda vez que se tenta explicar o inexplicável com preconceito. Porque, aparentemente, o preconceito sempre foi mais fácil do que a humanidade.
É preciso dizer ainda, com todas as letras: comunidades quilombolas não são espaços de atraso, de mistério ou de perigo. São territórios de memória, resistência, trabalho e vida. O que está acontecendo em São Sebastião dos Pretos é uma tragédia humana — não um enredo para teorias cruéis ou preconceituosas.
O poder público tem, sim, obrigação de seguir com as buscas até o fim, com todos os recursos possíveis. Mas nós, como sociedade, também temos outra obrigação: não transformar a dor em espetáculo, nem o preconceito em opinião. Compartilhar boatos, alimentar desconfianças sem prova, atacar uma comunidade inteira — tudo isso não ajuda a encontrar criança nenhuma. Só aprofunda feridas. Enquanto Ágatha e Allan não voltam para casa, o mínimo que se espera é respeito. Respeito às famílias. Respeito à comunidade. Respeito à fé que sustenta muita gente quando o Estado, a vida e o mundo parecem falhar ao mesmo tempo.
Que a comoção não seja seletiva. Que a solidariedade não tenha CEP, cor ou religião. E que a sociedade aprenda, de uma vez por todas, que nenhuma criança desaparecida deveria carregar, junto com o próprio sumiço, o peso do preconceito que não é dela — nem da sua gente.
Por Nila Michele Bastos Santos, doutora em História (UEMA), Mestra em História (UFMA) Historiadora, Psicopedagoga, Especialista em Formação de Professores. Professora do Instituto Federal do Maranhão IFMA – Campus Pedreiras. Coordenadora do LEGIP – Laboratório de estudos em Gênero do Campus Pedreiras. Colunista do Pedreirense.